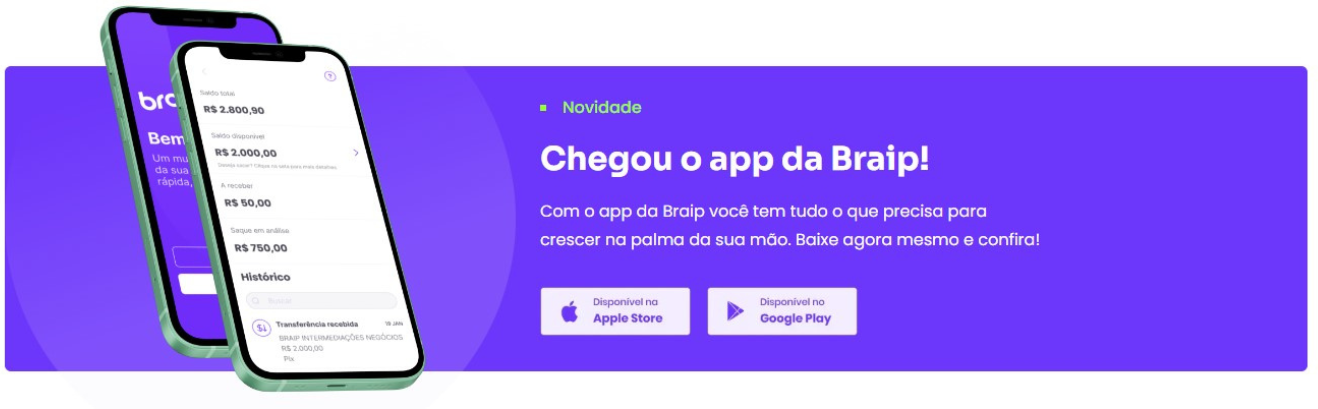Sou homem e há coisas sobre as quais preferiria não falar, que aos 35 anos preferiria esconder e torcer para desaparecerem com o tempo.
Ou que às vezes não consigo ter ereções ou ejaculo mais rápido do que quero.
Existem traumas e ideias que afetam minha vida sexual desde a adolescência, conflitos sobre os quais só falei na terapia ou sobre os quais até mantive silêncio durante anos.
Por isso fiquei surpreso com o que aconteceu há poucos dias: acabei em um encontro virtual conversando sobre meus medos e frustrações sexuais mais íntimos com outros seis homens estranhos.
Aconteceu numa quinta-feira à noite. Conectamos monogâmicos, poliamorosos, héteros, homossexuais, com filhos, sem filhos, em relacionamentos de mais de uma década, solteiros…
Uma videochamada dessas pode dar errado, muito errado, mas ainda me custa acreditar o quanto foi libertador e terapêutico.
A conversa virtual foi uma iniciativa que surgiu após publicar na minha newsletter em outubro de 2023 o ensaio Memórias do meu pênis triste, no qual descrevo como tenho sofrido sexualmente ao tentar me enquadrar nos estereótipos do que em muitas partes da América Latina é entendido como “ser homem”: dominante, com uma libido gigante, agressivo na competição, desconfiado, homofóbico, seguro de sua identidade e desinteressado em questioná-la.
Amo e sinto desejo pela minha parceira, tenho dois filhos, estou bem financeiramente e profissionalmente… Do lado de fora pareço cumprir o que esse mundo espera de um homem heterossexual como eu.
Mas não.
De vez em quando volto ao sexo ruim, sexo em que minhas inseguranças me impedem de estar presente, em que me preocupo mais em mostrar do que em sentir, e em que não há comunicação real, mas uma necessidade fisiológica a ser resolvida em que a outra pessoa é apenas um acessório.
Esse ensaio foi sem dúvida o texto mais desafiador que escrevi em mais de 15 anos como jornalista.
Levei 10 meses para terminá-lo e durante esse tempo pensei muitas vezes em abandoná-lo, não só porque implicava revelar detalhes que me envergonhavam, mas porque duvidava da sua utilidade para os outros.
No entanto, enquanto o escrevia, comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes: perguntar aos meus amigos sobre detalhes desconfortáveis sobre a sua vida sexual.
Até então só falávamos das nossas façanhas, ou do que nos fazia parecer bons amantes.
Fiquei surpreso que, apenas por perguntar explicitamente, muitos me contaram pela primeira vez sobre seus conflitos e como sofreram, assim como eu, o custo de quererem se enquadrar nos moldes sexistas.
Decidi então aproveitar a história das minhas disfunções sexuais para iniciar uma conversa mais honesta e matizada entre nós.
Foi assim que tive a ideia com a qual terminei aquele ensaio:
“Tive vergonha de falar sobre isso porque pensei que fosse um sofrimento individual, mas agora acho que expressar isso abertamente pode servir para iniciar uma conversa onde nos sintamos vistos, acompanhados, presentes. Eu adoraria que algum deles se atrevesse a falar comigo. Faça isso”.
Lembro que quando enviei o texto para minha lista de e-mail senti o mesmo de quando sonho que saio na rua sem roupa. Eu estava exposto e não havia como voltar atrás.
Mais de 7.000 pessoas leram o texto e começaram a surgir comentários, inicialmente principalmente de mulheres que convidavam homens para ler e discutir.
Mas, a longo prazo, muitos homens, quase todos em privado, responderam, gratos pela história e dizendo que estavam dispostos a falar.
Brilhante! Era isso que eu procurava inicialmente.
Mas quando tentei concretizar a iniciativa, fiquei impressionado: quem era eu para conter as histórias de outras pessoas se mal conseguia lidar com as minhas?
Fiquei impressionado com a responsabilidade de criar um espaço para falar coletivamente sobre nossas insatisfações sexuais, algo que continua sendo um tabu entre os homens latinos. Confesso que pensei em ignorar aqueles que me disseram que queriam conversar (a maioria deles estranhos).
Até que três meses após a publicação do ensaio, organizei a conversa no Zoom. Doze homens estavam inscritos.
Então nasceu o que chamo de “O Clube dos Pênis Tristes”.
Vários dos inscritos cancelaram na última hora. Eu os entendo.
No final, sete homens se conectaram, todos colombianos entre 20 e 40 anos.
O medo que eu tinha de ser forçado a carregar a conversa sozinho evaporou rapidamente. Apenas sugeri alguns acordos de confidencialidade para nos sentirmos seguros e depois fiz uma pergunta inicial para nos conhecermos e quebrar o gelo:
“O que você teria medo que soubéssemos sobre sua vida sexual?”.
Comecei respondendo:
Depois os outros seguiram:
“Podem passar meses sem querer ou fazer sexo com minha namorada, e não sei por que se o resto do relacionamento funciona bem.”
“Quando estou fazendo sexo, minha mente geralmente vai para outro lugar: lembranças de ex-parceiras ou imagens pornográficas.”
“Sou gay e não tenho nenhum prazer em relações sexuais sem vínculo afetivo, mas a maioria das pessoas espera de mim o contrário: sexo direto ao ponto e tchau.”
Ninguém respondeu diplomaticamente. Todos nós, sem exceção, nos jogamos na lama e revelamos o que costumamos esconder debaixo do tapete. Que alivio!
Como éramos poucos, pudemos entrar em detalhes sem sentir que estávamos ocupando o espaço de outra pessoa, e todos participamos ativamente.
Desde o início percebemos que a grande maioria de nós passa por encontros sexuais numa espécie de dissociação: o corpo está numa frequência e a mente está noutra.
É difícil abrir mão das máscaras e das expectativas, e há um juiz interno encarregado de avaliar o encontro à medida que acontece, comparando o que está acontecendo com o que “deveria acontecer”.
Vários de nós apontamos essa conversa interna como mecanismo de defesa contra a intimidade. Estamos tão preocupados em atender aos padrões implacáveis do macho na cama que temos dificuldade em nos conectar com a outra pessoa.
E é muito triste que a sexualidade seja apenas mais um cenário em que nos sentimos sozinhos.
Nós nos perguntamos de onde vem a ideia de que um encontro sexual deve seguir sempre o mesmo roteiro, por que se um relacionamento não segue o arco de ereção-penetração-ejaculação nos sentimos frustrados e desorientados.
Vários mencionaram como a obediência cega a esse roteiro significa que, a longo prazo, o sexo deixa de surpreender e serve apenas como um mecanismo para aliviar a tensão.
Um deles contou que, para evitar aquela monotonia em um relacionamento longo, combinou com sua parceira em fazer encontros que vão além da estrutura rígida e que mais parecem um jogo.
Às vezes, eles só ficam nus para se massagear e conversar, ou têm sessões em que levam um ao outro à beira do orgasmo, mas param ali mesmo, sem se sentirem insatisfeitos.
Outro participante admitiu que desconhecia as possibilidades de seu próprio prazer além dos genitais. Sua intervenção ressoou em todos.
Isso fica evidente na maneira como nos masturbamos, por exemplo. Quando queremos nos dar prazer, não pensamos muito: vamos direto à fórmula da ereção, da fricção, do orgasmo.
Rimos quando alguém propôs a ideia de explorar o prazer físico sozinho, sem estimulação genital: massageando os cabelos, acariciando as extremidades, vibrando com o corpo inteiro.
A imagem por si só nos pareceu um desenho animado e mostra o quão reduzido é o nosso leque de sensações: se não há atrito no pênis, sentimos que falta o prato principal.
Alguém concluiu que talvez um dos desafios para sair do roteiro sexista seja explorar outras formas de erotizar-se, conhecendo-se tão bem e depois convidando o parceiro a potencializar esse prazer.
Para mim, o momento mais interessante da noite foi quando um homem poliamoroso compartilhou uma situação difícil pela qual está passando.
Ele está em um relacionamento aberto e nunca escondeu da parceira principal que tinha outros vínculos afetivo-sexuais.
Mas quando ela lhe contou que tinha começado a dormir com outro homem, ele desmaiou.
Pensando em voz alta, ele disse que o que o machucou não foi o fato de ela ter recebido prazer de outro, mas sim o fato de ele agora se sentir em competição com o amante. É inevitável que ele se compare e isso abala seu ego.
Foi revelador perceber como usamos as mulheres – ou outros homens – para competir uns com os outros.
Talvez, em parte, seja por isso que somos tão obcecados com o desempenho sexual: quantos orgasmos eu dou, quanto tempo eu duro, quão duro eu fico, com que frequência eu faço?
Ao avaliarmos o nosso desempenho desta forma sentimos que estamos avançando na corrida para superar os demais.
Fiquei emocionado quando o homem poliamoroso disse que o que o ajudou a curar seu ego ferido foi tentar imaginar o amante da namorada como um amigo, um amigo que pode dar prazer e que também merece recebê-lo.
Para mim, a competição com outros homens está associada a necessidades básicas como sobrevivência e pertencimento.
Nasci e cresci em Medellín durante os piores anos da guerra entre o narcotráfico e o Estado.
Cresci vendo traficantes de drogas nas ruas, saindo de seus enormes caminhões ou de suas barulhentas motocicletas, sempre seguidos por mulheres hipersexualizadas operadas de acordo com suas fantasias, ou seja, mais peitos, mais bundas, mais lábios, cada vez mais.
Os ‘traquetos’, como os chamamos aqui, eram vistos como machos alfa, referência de sucesso masculino: tinham o que queriam, puro poder sem remorso.
Sem perceber, meus amigos e eu internalizamos esse modelo. Ser menos que eles era um indicador de fraqueza. Além disso, sua estética irrigou a cidade e a nossa forma de nos relacionarmos com outros homens e mulheres.
O sexo era a arena em que competíamos.
Lembro que no final dos anos 90, quando ainda era criança, via outdoors de mulheres de topless nas principais avenidas; e na minha adolescência nossos cadernos escolares traziam modelos seminuas na capa.
O corpo da mulher era a moeda para ganhar status.
Nessa quinta-feira encerramos o encontro virtual falando sobre amizade íntima entre homens. É escasso. Bastante. E a orientação sexual não importa.
Achamos difícil contar aos outros homens as nuances do que acontece na nossa esfera privada. Preferimos fingir que está tudo bem – ou pelo menos sob controle – e não ter de questionar as ideias de masculinidade que constituem a espinha dorsal da nossa identidade.
Mas a conversa que tivemos durante esses 90 minutos foi a prova de que buscar alternativas para nos sentirmos mais livres não precisa ser um exercício solitário e tempestuoso.
No geral, foi um encontro otimista: estamos quebrados, sim, mas podemos optar por reorganizar as peças.
Decidimos que continuaremos nos reunindo virtualmente mensalmente, pois estamos em quatro cidades diferentes.
Para a próxima sessão leremos três pequenos capítulos de The Desire to Change (A Vontade de Mudar, em português), livro da autora americana Bell Hooks que tem sido importante para vários de nós.
Posso dizer que aquela noite foi uma das mais emocionantes e intensas no meu processo de aprendizagem sobre outras possibilidades do masculino.
O desafio que sinto depois de ter feito isso é levar para outras áreas da minha vida, para que essa conexão significativa e transformadora entre os homens não ocorra apenas em espaços dedicados a isso.
Como posso ter uma ligação mais íntima com meu pai, com meu irmão, com meus amigos, com colegas e estranhos? Como podemos nos distanciar dos gestos de poder e brincar mais, nos encontrando como aliados na nossa própria cura?
Se isso acontecer, sinto que estamos fazendo o melhor que podemos para começar a reparar o que foi quebrado ao longo de tantos séculos de masculinidade ferida.
Por enquanto, convido você a continuar conversando.
*Jorge Caraballo é jornalista e escritor colombiano. O ensaio “Memórias do meu pênis triste” foi publicado originalmente em https://afueradentro.substack.com.